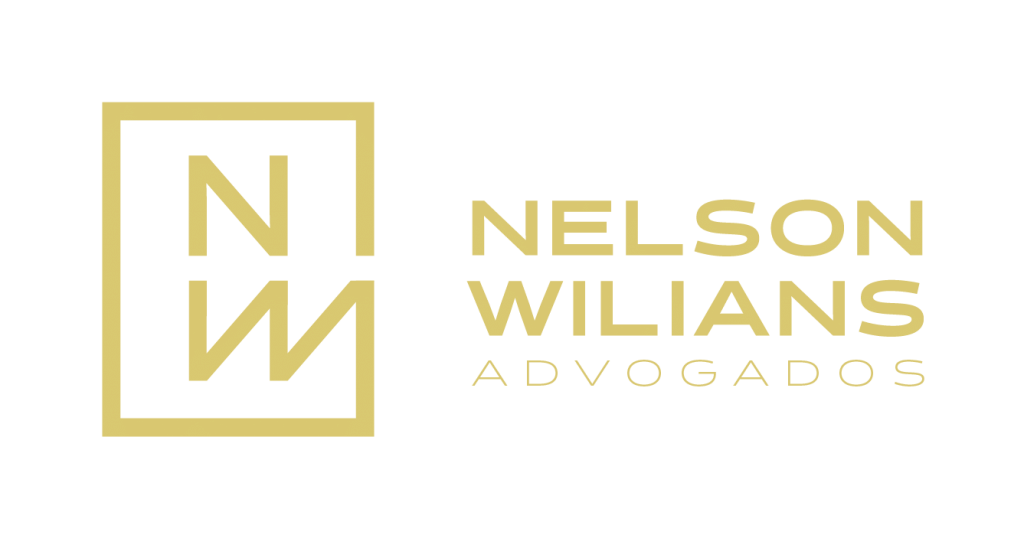Falta ciência na discussão sobre a velocidade das marginais
J. MARCELO ALVES
COLABORAÇÃO PARA A EDITORIA DE TREINAMENTO
Muitas discussões de importância social, médica ou ambiental dependem de um conhecimento fundamental raro: a alfabetização científica. O aumento de velocidade nas marginais de São Paulo é um exemplo no qual mesmo o básico dessa educação ajudaria muito no entendimento da situação.
A alfabetização científica tem dois níveis. O mais negligenciado em nossas escolas e universidades, e talvez o mais importante, é o do método científico. Ou seja, o modo como são obtidos os conhecimentos que compõem o segundo nível, o das descobertas científicas em si –os fatos e conceitos que vemos na escola (e que a maioria decora para a prova e depois esquece). Ambos são importantes, cada um à sua maneira.

Tomemos aqui o caso da velocidade nas marginais, onde o segundo nível é suficiente para iluminar as diferenças entre andar a 70 ou a 90 km/h. Reclama-se que é muito lento andar a 70 km/h, mas, objetivamente falando, qual é a diferença?
Suponhamos que se esteja percorrendo inteiramente os quase 23 km da marginal Pinheiros o tempo todo na velocidade máxima permitida –façanha factível nas madrugadas, e olhe lá. A diferença entre fazê-lo a 70 km/h ou a 90 km/h é de 4min23s. Isso para andar a via toda. Se for percorrida só uma fração dela, a diferença cai em proporção direta (exemplo: metade de distância, metade da diferença).
É mais fácil enxergar a conta com números inteiros: para andar 100 km a 50 km/h, leva-se duas horas (100 dividido por 50). Agora é só transformar a diferença entre os tempos a 70 e 90 km/h (que é de 0,073h, aliás) de horas para minutos e segundos com simples multiplicações por 60.
Há quem acredite que 20 km/h a mais não façam tanta diferença nas colisões. Aqui o problema é mais conceitual –o dano de uma pancada depende da energia aplicada. Quanta energia a mais carrega um carro andando a 90 km/h? O conceito a ser lembrado agora é o de energia cinética, a do movimento.
O que importa aqui é que a fórmula tem a velocidade elevada ao quadrado –ou seja, mudanças na velocidade refletem mais na energia cinética final: duplique a velocidade, e a energia será quatro vezes maior.
No caso das marginais, dividindo 90 por 70, temos 1,29 –que, elevado ao quadrado, é 1,66. Ou seja, uma elevação de 29% na velocidade leva a um aumento de energia cinética de 66%. O raciocínio e os números são idênticos para saber a distância extra necessária para frear um veículo. Pouca coisa?
A decisão a favor ou contra o aumento da velocidade não é completa sem esse tipo de raciocínio. É uma pena que nossos estudantes –e não só os vindos de escolas públicas, vale frisar– sejam tão deficientes nessa área, como em tantas outras.
JOÃO MARCELO PEREIRA ALVES, 42, é biólogo do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pós-doutorado em genômica e bioinformática pela Virginia Commonwealth University e participou do 1º Programa de Treinamento Sênior da Folha.